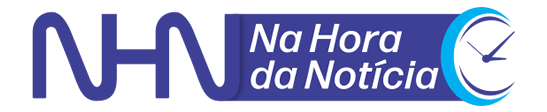CIDADES
Favelas e periferias sofrem mais: por que a crise climática é também sobre desigualdade?

A crise climática tem rosto, endereço e CEP –e ele é periférico. Na COP30, líderes mundiais debatem metas e acordos, mas há um território inteiro que segue fora do mapa das decisões: as favelas. Ali, onde a desigualdade é a rotina e o improviso sustenta o cotidiano, as mudanças no clima chegam com maior intensidade. São enchentes que roubam memórias, deslizamentos que destroem anos de luta e ondas de calor que se abatem com mais rigor sobre milhares de famílias. Nos becos e vielas das periferias, a emergência climática é o agora, tantas vezes ignorado.
É o que mostra o Panorama Climático das Favelas e Comunidades Invisibilizadas 2025, realizado pela organização social TETO com apoio metodológico do Laboratório Arq.Futuro de Cidades do Insper. O levantamento mapeou 119 favelas distribuídas por todas as regiões do País, em 51 municípios.
“A pesquisa revela que lidar com eventos climáticos extremos faz parte do cotidiano de quem vive em bairros periféricos no Brasil, especialmente diante das ondas de calor (71,4%), tempestades (56,3%), enchentes (53,8%) e da falta de água (49,6%). Além desses, fenômenos como quedas de árvores (37,8%), desabamento de casas (31,9%), secas prolongadas (21%) e deslizamentos de terra (19,3%) também foram frequentemente mencionados pelos entrevistados.
É diante dessa realidade de que a crise climática atinge especialmente os mais vulneráveis, que se fala em justiça climática. Thalita Veronica Gonçalves e Silva, defensora pública do Estado de São Paulo, explica ao Terra que o termo deve ser entendido como uma crise de direitos humanos e de desigualdade social.
“O conceito, consolidado internacionalmente pelo Acordo de Paris (2015) e reafirmado pela Opinião Consultiva nº 32/25 da Corte Interamericana de Direitos Humanos, demonstra que os efeitos das mudanças do clima não são neutros: afetam de forma desproporcional as populações historicamente vulnerabilizadas, que menos contribuíram para a emissão de gases de efeito estufa”, afirma.
A defensora destaca que a justiça climática se apoia em três pilares:
o reconhecimento do racismo ambiental, que evidencia a correlação entre desigualdade racial e exposição a riscos;
a fundamentação jurídico-institucional, com base na Constituição Federal e na Opinião Consultiva nº 32/25 da Corte Interamericana de Direitos Humanos, que reconhece o direito humano a um clima sadio, estável e equilibrado;
e a efetividade das políticas públicas, que exigem planejamento transparente e participação social.
Segundo Thalita, a omissão do Estado em garantir moradia adequada, saneamento, drenagem e reassentamento seguro configura uma violação estrutural de direitos humanos, transformando o atendimento emergencial em moradia crônica.
A defensora reforça que a adaptação climática urbana deve ser entendida como obrigação de direitos humanos, com a participação das comunidades, investimentos estruturais contínuos e políticas antirracistas e intersetoriais, transformando o direito à moradia, ao saneamento e à segurança territorial em instrumentos de justiça climática, social e ambiental.
A Defensoria Pública entende a injustiça climática como uma violação estruturada e ligada a diversos direitos humanos, causada pela omissão do Estado em proteger, prevenir e reparar os danos. Essa visão se baseia na responsabilidade civil objetiva por omissão específica (artigo 37, § 6º, da Constituição Federal), ou seja, o Estado tem o dever de agir de forma preventiva diante de riscos climáticos conhecidos, e pode ser responsabilizado se não tomar medidas para evitá-los.
“A realidade reforça que a vulnerabilidade climática no Brasil tem cor, gênero e território — e que a justiça climática deve ser compreendida como um imperativo de direitos humanos. A justiça climática é uma abordagem jurídico-política que parte do reconhecimento de que a crise climática é, essencialmente, uma crise de direitos humanos e de desigualdade social”, diz a defensora.
Falta de infraestrutura básica aumenta vulnerabilidade
O Panorama Climático das Favelas e Comunidades Invisibilizadas 2025 mostra que a precariedade dos serviços de saneamento e infraestrutura urbana é um dos principais fatores que ampliam os impactos da crise climática nas favelas brasileiras.
No abastecimento de água, 48,3% das comunidades (57 no total) dependem de ligações clandestinas, enquanto apenas uma em cada três tem acesso regularizado. Outras 13 comunidades (11,1%) recorrem a pontos externos de água, 8 (7,1%) utilizam relógios coletivos, e 6 (5,2%) contam com poços ou cisternas. De acordo com o estudo, a irregularidade no acesso compromete não apenas a disponibilidade, mas também a qualidade da água, agravando a situação em contextos de emergência climática.
Em relação ao esgotamento sanitário, 49 comunidades (41,3%) ainda utilizam fossas rudimentares, e apenas um quarto está conectado à rede pública. Outras 18 (15,2%) despejam o esgoto em valas, 15 (12,3%) em rios ou mares, e uma faz uso de rede comunitária. Segundo o relatório, a ausência de infraestrutura adequada compromete diretamente a saúde da população e a capacidade de resposta a eventos como enchentes e alagamentos.
A coleta de lixo também é um problema: em 43 comunidades (36%), o recolhimento ocorre fora do território; em 36 (30,4%), na porta das casas; e em 27 (22,4%), dentro da comunidade. Outras 11 (9,6%) não contam com qualquer serviço. Essa precariedade favorece a proliferação de insetos, animais peçonhentos e doenças, como a dengue, além de contribuir para a contaminação do solo e da água.
O quadro é ainda mais crítico na drenagem urbana: sete em cada dez comunidades não possuem sistema algum. Apenas 16 (13,6%) contam com algum tipo de drenagem pública, e 15 (12,8%) recorrem a soluções improvisadas. Embora a maioria das obras públicas registradas esteja relacionada à drenagem (cerca de dois terços), nas iniciativas comunitárias prevalecem ações de contenção de encostas (41%).
O relatório destaca ainda que quatro em cada cinco comunidades estão localizadas a até 100 metros de rios, canais ou córregos, o que as expõe a enchentes e contaminação hídrica. Além disso, 65,5% estão próximas a áreas de mata preservada, o que, embora represente potencial ambiental, também traz riscos de incêndios florestais, queda de árvores e presença de animais silvestre.
“Quando essas comunidades são afetadas pelos eventos provenientes da crise climática, é diferente a capacidade de resposta e a atenção que elas recebem”, destaca Camila Jordan, diretora executiva da TETO Brasil e engenheira ambiental. De acordo com ela, os bairros ricos ou formalizados têm prioridade na assistência, enquanto periferias e favelas ficam à mercê dos desastres.
Moradias precárias e localização de risco
De acordo com Camila, a moradia afeta tudo na vida das pessoas, desde saúde física e mental até capacidade de trabalho e relações interpessoais. “Nas periferias e nas favelas, a falta de arborização é extrema, e isso faz com que haja concentração de ilhas de calor. Junte isso com a densidade das construções, pouca ventilação, casas de madeira ou materiais inadequados e assim a população sofre mais com calor ou frio extremos”, destaca.
O levantamento feito pela TETO em parceria com o Inper aponta também para essa realidade de que as condições estruturais das habitações e a localização geográfica das favelas brasileiras intensificam sua vulnerabilidade frente aos eventos climáticos extremos. Em 71,4% das comunidades, o principal material de cobertura são telhas de fibrocimento, conhecidas pela baixa durabilidade e pelo fraco isolamento térmico. Outros materiais aparecem em menor proporção, como zinco (10,9%), cerâmica (5%), madeira (4,2%) e laje de concreto (4,2%) — além de coberturas improvisadas com sucata (4,2%).
A precariedade também se estende aos pisos, onde concreto (39,2%) e cerâmica (26,4%) predominam, mas um terço das comunidades ainda apresenta pisos de terra, madeira ou materiais reaproveitados. E as paredes são construídas em muitos casos com madeira reciclada (29,4%) ou sucata (5,9%). Segundo o estudo, mais de 50 comunidades permanecem em condições estruturais inadequadas, o que aumenta o risco de danos mesmo em chuvas de baixa intensidade.
Além das fragilidades construtivas, a localização dos territórios também acentua o risco: 52,9% das comunidades estão próximas a barrancos, 49,6% a plantações, 40,3% a torres ou postes de alta tensão, e quase um terço se encontra nas imediações de pontes, viadutos ou rodovias. Outros fatores críticos incluem a proximidade de dutos subterrâneos (21%), lixões (19,3%), linhas férreas (14,3%) e até focos de lixo industrial ou hospitalar (6,7%).
As consequências desses fatores são muitas. Entre as principais perdas relatadas estão bens materiais (70 comunidades), sofrimento emocional (57) e danos severos às moradias (54). Houve ainda registros de perda de documentos (53), interrupção de serviços básicos (50) e mortes humanas (17). Apesar da gravidade, 60% das comunidades não receberam nenhuma obra de mitigação de riscos nos últimos anos. Quando ocorreram, 25% foram realizadas pelo poder público, 10% pelos próprios moradores e apenas 5% por ONGs ou empresas.
“Não existe justiça climática sem justiça social. Precisamos garantir que, na corrida contra os efeitos da crise climática, as pessoas mais vulnerabilizadas não sejam deixadas para trás. Não haverá cidades justas e resilientes se não pensarmos nas comunidades mais vulnerabilizadas”, afirma a diretora executiva da TETO Brasil.
Investir em moradias resilientes, soluções de adaptação climática e políticas públicas focalizadas são caminhos essenciais para proteger as comunidades e combater desigualdades históricas, defende Camila.
Justiça climática exige transparência e participação comunitária
A falta de preparo diante de emergências climáticas também é recorrente: 67% das comunidades não contam com abrigos de apoio e 84% nunca participaram de treinamentos ou simulações de evacuação, o que demonstra a ausência de políticas preventivas e de proteção aos territórios mais vulneráveis, conforme aponta o estudo.
A defensora pública Thalita Veronica afirmou que, embora a legislação brasileira reconheça o direito à reparação e ao reassentamento digno em situações de desastre, “ainda há um longo e desafiador caminho a percorrer para garantir transparência, participação comunitária e adequação nesses processos”. Segundo ela, as práticas atuais de remoção “são frequentemente impostas, sem diálogo efetivo com as famílias atingidas”, e acabam por “aprofundar a segregação socioespacial”.
Thalita destacou também a cronificação do atendimento provisório, citando o auxílio-aluguel como exemplo. “Um benefício emergencial tem se tornado a única forma de moradia por anos, o que revela a ausência de soluções definitivas e a morosidade administrativa”, afirmou. Em São Paulo, famílias atingidas por enchentes há mais de uma década ainda aguardam reassentamento.
A defensora ressaltou que a omissão estatal diante da falta crônica de investimento em infraestrutura e prevenção configura “violação estrutural de direitos fundamentais”. Segundo ela, a Defensoria vem utilizando ações civis públicas e articulações extrajudiciais para responsabilizar municípios e estados.
Para Thalita, a justiça climática nas favelas só será efetiva se incorporar uma perspectiva interseccional. “A crise climática é também resultado do racismo ambiental, das desigualdades de gênero e de classe”, afirmou, lembrando que os impactos recaem de forma desproporcional sobre mulheres e populações negras, “as que mais sofrem com a ausência de infraestrutura e a negação sistemática de direitos”.
A defensora pública defende que as políticas de adaptação climática voltadas às favelas “precisam superar a lógica emergencial” e serem conduzidas “como políticas de direitos humanos orientadas pela justiça social e climática”. Para ela, a garantia de moradia adequada, infraestrutura segura e permanência digna das famílias nos territórios deve ser prioridade, enfrentando o que classifica como o dano crônico do racismo ambiental.